Não acordei para ir à casa de banho.
Não acordei sobressaltada de um pesadelo.
Não acordei com sede.
Não acordei durante a noite, como é frequente.
Dormia tranquila, ainda bem que não acordei.
E nunca mais dormi igual. Desde essa noite que não durmo em paz, desde essa noite que arranjo maneira de conseguir dormir.
Eram sete da manhã quando o telemóvel, a vibrar no chão, me acordou. Remelada e confusa atendo. Ela estava à minha porta. Descalça, desguedelhada e de t-shirt larga, deixei-a entrar. A ela e à morte.
Sem desconfiar da hora prematura, convidei-a a sentar:
– Não, obrigada.
Ela andava em círculos pela cozinha, limpava a cara suada com os dedos das mãos. Ofereci-lhe um copo de água:
– Não, obrigada.
Encostou-se à mesa da cozinha e ficou a olhar-me. Mal sabia eu que ela carregava uma sentença, um veredicto que me faria monstro para o resto da vida. Ela estava com medo, angustiada e aflita:
– Tu não estás bem. – Disse-lhe pousando as minhas mãos nos seus ombros.
– Pois não.
– Então?
– O teu pai…
Não lembro de como terminou a frase, lembro de lhe ter perguntado se ele tinha morrido. Não porque o sentisse, não porque tivesse decifrado o cenário, não que esperasse confirmação ou que tivesse sonhado com isso em noites passadas. Perguntei na busca desesperada de ouvir um não. Perguntei porque era a única coisa que não queria ouvir. Perguntei como uma criança apavorada. E quando pensei que ia ouvir um não, ouvi sim.
Fiquei surda. Zonza. Atordoada.
Caí em queda livre. Gritos de choro, nem me sabia gritar assim. Pensava que, por já ter chorado tantas outras vezes, que sabia da dor. Ah… não sabia de merda nenhuma.
A vida como conhecia morreu.
O corpo ficou dormente, a mente ficou doente. Perdi o juízo, o foco e a paz.
Seguem-se telefonemas confusos, gritos de choro. Pedem-me calma, que não perca a calma até entrar no avião, até aterrar em Portugal.
Eu não sabia de mim.
(E hoje, 365 dias depois, ainda não me sei. Também não me procuro).
Entrei no chuveiro, as gotas lavam as lágrimas, o som do chuveiro abafa-me os gritos, a boca aberta inunda-se. Cravo os cotovelos na parede, ouço o telemóvel que toca, ela que ainda está no apartamento e seguro uma toalha. Que me seca a pele mas não as lágrimas.
Numa mala de mão coloco sei lá bem o quê.
Saio de casa. Não me deixam conduzir. Peço para me levarem a uma igreja. Sei lá bem porquê.
Compro o bilhete de avião. Não me deixam sozinha nem por segundos. Chamo por ele dentro da minha cabeça. Vou lá fora e ligo-lhe, toca mas ninguém atende. Enlouquecida. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Talvez fosse mentira. Talvez ainda estivesse a dormir.
Volto a telefonar para Portugal, tinha tantas perguntas, tanta revolta:
– “Foi repentino”.
– “Mas ainda ontem o vi! Ainda ontem falámos!”
Fiz sofrer quem sofria com o meu sofrimento.
Muitas horas depois, no aeroporto. Eu, uma mala de mão e o peluche que ele me deu. De pé na fila para a segurança. Toda a gente me olha. Eu agarro o peluche com toda a sanidade que me resta. Choro sem querer saber o que possam pensar. Grito por ele, na minha cabeça.
Sentam-me à janela. Peço um comprido para dormir, mas não têm. Encosto a testa à janela e travo discursos imaginários com ele. Seis horas de voo não dormidas.
Aterro em Lisboa às 06h00. Espero uma hora pelo avião para o Porto. Aterro no Porto:
– O que a traz ao Porto? – perguntam-me na alfândega.
E é aqui a primeira vez que digo as palavras.
Elas estão todas do outro lado. Abraço a sangue do meu sangue, a que perdeu o mesmo que eu.
Tudo o resto são epifanias nervosas e doentes. Misto de rever gente num contexto fatídico, de ver quem amo num sofrimento miserável e cortante. Há quedas de joelhos, há baba que escorrega, mãos trémulas. Há um frio que nunca antes havia sentido, e que nunca mais esqueço. Há lenços, flores e preto. Muitas roupas pretas. Há o meu melhor amigo que segura uma das pegas, há tiros de homenagem, há centenas de abraços, há preces e piedade. Há um futuro perdido. Há uma fotografia que vi tantas e tantas vezes, e agora vejo ali também.
Tenho a mente inquieta, o olhar desvairado, o pensamento retardado, uma boca que fala sozinha e um corpo que cede ao cansaço.
Sem saber onde as pernas desfalecem, o corpo cai em peso morto e não lembro de levantar. Ela levantou o meu corpo desmaiado. E a maneira como me pegou senti-o, era assim com um solavanco de quem não deixa um soldado para trás que ele me levantaria. O corpo foi arrastado, mas eu ainda lá estou. Perdida, desorientada e no escuro. Um ano depois, ainda estou caída naquela calçada abençoada. Onde anjos esculpidos me olham de longe, as velas derretem, as flores murcham e os regadores perdem a cor. Onde se contam os meses e não os anos. E eu que nunca entendi porque se contam os meses dos bebés e não os anos. Eu que nunca entendi porque se contam os meses de quem morre e não os anos. Agora entendo, é porque faz parecer que o tempo não passa. Artes de se enganar a mente:
– Morreu há treze meses.
– Tem catorze meses de vida.
Dizem que não melhora, que nunca vai passar, que nunca nada será igual e eu que não gosto de dar razão a ninguém, talvez lhes venha a dar pappy. Talvez um dia, quando acordar deste desmaio. Por enquanto, ficamos por aqui.
Só tu e eu.
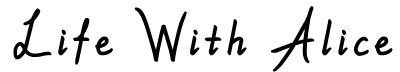

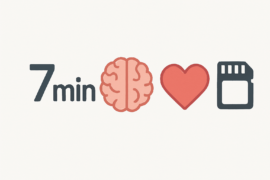


Comments are closed.