O som do telefone ecoou, a horas impróprias, pelo corredor dos quartos. Os pratos lavados escorriam na banca, tínhamos acabado de jantar. Telefonemas depois do jantar, durante a semana, eram impróprios.
Mas ela esperava-o, talvez fosse ele do outro lado da linha. A mãe atendeu e chamou-a. Ela pausou os LEGOS, correu e segurou o telefone amarelado com as pequenas mãos:
– Eu estou bem, não consigo ir buscar-te hoje. Estou bem, mas tive um acidente de carro. Eu estou bem.
– Ok…
A chamada foi curta, mas demasiado importante. Não para ele mas para ela. Ela tinha dez anos. Ele telefonou para a casa da ex mulher depois de, encandeado por outro veículo, ter perdido o controlo do carro e se despistado. Ele quis ouvir a voz da pequena, quis ser ele a dizer-lhe que não a podia buscar. Talvez tivesse tido medo, talvez fosse só ela quem ele quisesse ouvir naquele momento aflito. Mas não alongou a conversa, para que ela não o decifrasse. Para não a assustar.
Ela esperou por ele no dia seguinte. E ele não lhe falhou.
Esse fim-de-semana foi mais curto.
Essa foi a primeira vez que ela teve medo de o perder.
Onze anos depois, numa ilha que pertence aos deuses, a terra tremeu.
Ela fugiu do quarto alugado, gritou por ele e bateu-lhe à porta. Mas ele não estava, tinha ido ao centro da cidade e deixou-a dormir. A terra estremeceu, as telecomunicações cessaram e ela não sabia do pai.
Perdeu o foco.
Nela havia tanto silêncio que o ar que lhe circulava os pulmões a ensurdecia. Da rua ouviam-se gritos e agitamentos.
Ela paralisou, teve medo e não soube agir.
Quinze minutos depois ele apareceu e abraçaram-se aliviados.
Essa foi a segunda vez que ela teve medo de o perder.
E não houve uma terceira vez.
E não houve mais medo.
Ela perdeu-o, há quatro meses.
Está ela agora ali, bem longe, a pensar nele.
A desejar estar eternamente presa na primeira e segunda vez em que quase o perdeu.
Está deitada no terraço, a olhar as estrelas e o eclipse que pinta a lua de vermelho. Tantas vezes ali se deitou a procurar a sua Alice. Deita-se agora por ele.
Não fala, não reza e não chora. Faz algo que nunca antes a vi fazer. Canta.
Canta, num sussurro apático, repetindo os versos que sabe de cor da “Have you ever seen the rain”, dos Creedence Clearwater Revival e da “Fell in love with an Alien” dos The Kelly Family.
Músicas de uma banda sonora entre pai e filha.
O cantarolar meigo iluminou-lhe memórias antigas, e com o pesar da dor aumentou o volume. Canta bem mais alto agora. Canta enraivecida e angustiada. Canta até que o choro aflito lhe inunda a voz e lhe entope o nariz. Como uma criatura das trevas uiva para a lua e de joelhos desiste da lucidez. Atira para o espaço perguntas sem nexo. Incoerentes. Estapafúrdias. Culpa-se por ter vivido por ela e por não saber dele. Culpa-se por não se conformar. Chora um choro feio. Um choro sem remédio. E quando as lágrimas lhe secaram, chamou-o. Pediu-lhe um sinal. Exigiu-lhe que ele a tranquilizasse, que a não a fizesse estar tão só e que o dissesse perto. Que a ajudasse a voltar a amar a vida, sem ele. Que a fizesse dormir em paz.
Suplicou com o queixo tremelicando, as mãos desmaiadas no regaço e a cabeça pendurada no peito.
Sentiu-se ridícula. Sentiu-se irracional.
Limpou a cara ao vestido, afastou-se do chão, levantou o olhar e viu uma estrela cair do céu.
Ela riu e lembrou as ´´últimas palavras que lhe ouviu:
– Vai dormir, até amanhã!
“Oh, Pappy…” – expirou enquanto descia as escadas do terraço – Até amanhã!
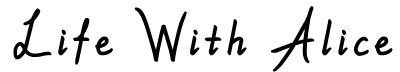

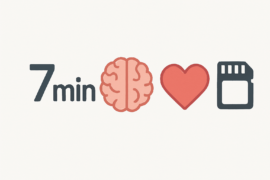


2 Comments
Arrepiante. Lindo.
Fazes-me chorar, sempre que te leio! ❤️