No dia que vim ao mundo, num bloco operatório americano, creio que dediquei o meu primeiro grito à minha mãe. Tenho em mim que sim.
Gritei-lhe talvez por ter nascido de manhã e não de noite. Por ser dia vinte e sete e não vinte e nove. Por me terem puxado abruptamente e batido sem explicação. Ou por outro qualquer pensamento, que incomoda um recém-nascido.
Creio que gritei só a ela. Não por maldade ou falta de amor, mas por sentir que ela seria a única a ouvir-me, a sofrer e a querer fazer-me parar de gritar. (Assim seria toda a vida). Queria quem me desejou durante nove meses, quem me sonhou muito antes disso, quem me carregou, me deu importância e existência antes de eu nascer. Quem criou nos outros a ideia de mim. Queria quem me fez sentir o amor, o absoluto e cego de feições.
Queria a minha mãe.
Creio-o ainda hoje, porque ainda hoje lhe grito.
Acredito que o meu fado é a minha mãe. O triste e o feliz, ao mesmo tempo e pela mesma medida. Modestamente reconheço o meu pouco nobre calcanhar de Aquiles. Porque mãe é quem nos cria gente. Quem nos vê e guia a todo o instante, presencialmente e telepaticamente. Mãe é o que não se explica, é o medo e o cuidar. É o proteger e o desafiar. É levar ao limite, é falar como se apetece mas não se deve. É querer matar quem lhe faz mal e quem me faz gostar do Natal. Ter uma mãe que cuide é dançar uma coreografia umbilical sincronizada. Tumultuosa e feliz, no que me diz respeito.
É este o meu fado.
Desde pequena que desafio a minha, inconscientemente. Talvez por achar que vejo a vida por outro prisma e por talhar caminhos diferentes, mas que culminavam no mesmo destino. Por achar que as opiniões podem diferir, em todas as relações. Até entre mãe e filha, com o devido respeito e comunicação.
Na verdade, as minhas articulações verbais não eram as mais felizes e a capacidade de ela ver além da minha idade era reduzida. Discordávamos. Discutíamos. Discutíamos muito e todos os dias. Várias vezes saí de casa. Saí da casa da minha mãe para a o do meu pai. O meu porto de abrigo quando a agitação virava tsunami, e o lado conveniente de ter pais separados e quase vizinhos.
Das duas vezes que bati a porta e saí de saco desportivo ao ombro, a minha mãe nunca falhou com uma mensagem de boa noite. Isto de ser mãe, pelo que vejo, implica dobrar também o orgulho ferido num saco de desporto e ignorar a gigantesca razão que tem do seu lado. Isso é amor. Isso era saber que não há discussão que quebra o que a vida junto criou.
Ela sabia disso, eu não. Ou talvez soubesse, por isso saia de casa, porta-estandarte, com a certeza que cedo voltaria. Ela nunca me rejeitaria. Que felizarda fui e sou.
Das milhentas discussões não se guardou rancor, porque já a minha mãe discutia com a minha avó. Tal e qual como ela e eu. Como se de uma maldição se tratasse. Como se com o nascimento de uma nova geração feminina se passasse o testemunho e reencarnassem as desavenças. Na verdade, a minha mãe e avó eram emocionalmente iguais. Emigrantes, furacões, poços de vontade-própria, gargalhadas fáceis, mãos amigas, amantes da Natureza, do espetáculo e mulheres que querem família. Não mal me interpretem. A meu ver, mulheres que querem família são mulheres independentes que constroem uma família, grande e por perto, sem que se anulem ou aceitem os costumes machistas.
Elas.
Iguais e por isso chocavam, diariamente e a toda a hora. Queriam a mesma coisa de duas maneiras diferentes, ambas válidas. Ambas certas e totalmente discordantes. E o que se resolveria com paciência e tento no volume vocal, acabaria em gritaria. É a maldição e o seu negrume, que impede de ver a luz da razão.
Dizem que os opostos se atraem, talvez porque os consoantes choquem.
Nasci eu com a mesma maldição, nasci eu a gritar à minha mãe mal o ar me entrou nos pulmões. Nasci igual à minha mãe, sei disso quando me escuto no dia-a-dia e a vejo sair-me pela boca. É na tentativa de quebrar este vício repugnante que o partilho com o mundo.
Não se registam ódios antes, durante ou depois de uma gritaria. Porém, ficam as cicatrizes e o profundo pesar do tempo que se perde nela. Sobretudo quando alguém parte, no silêncio e na tristeza. Deixando um rasto de culpa e arrependimento, mesmo que se tenha tido razão em todas as desavenças.
Quero que a maldição termine agora e não com a morte.
Não quero que o “um dia te arrependes” chegue. Ainda há tempo, ainda vamos a tempo. Falar sobre isso é expor o pó escondido debaixo do tapete, é dar luz a todo o túnel, é nadar contra a maré e repensar toda a palavra e som que escapa por entre os meus lábios. É tentar e assumir fraqueza. Porque no final, não há luta que mais nos glorifique que aquela que protege a família. Que nos dá as memórias felizes e o amor desmedido.
O meu primeiro e último grito pertencem à minha mãe.
Ainda quero a minha mãe, tenho em mim que assim será para sempre. Mesmo quando o sol não mais nascer, sei que vou querer a minha mãe.
O meu último grito é teu.
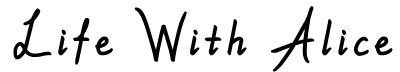




Comments are closed.