Não me lembro, porque acho que nunca o fiz, de começar um texto a desculpar-me. Pelo desconforto, inquietação e dor que esta minha perspectiva escrita possa causar.
Defendendo que a todes é dado o mesmo direito ao livre-arbítrio, esta é a minha liberdade a expressar-se.
É a minha dor a arranjar boleia para fora.
Desculpa, se esta boleia traz a tua dor de volta.
Este texto nasceu nos cinco segundos que demorei a inverter a marcha do carro, junto ao centro columbófilo que outrora foi um jardim infantário. O meu.
Acabada de vir do hospital.
Não existe, ainda, um manual que ensine o que fazer quando se perde alguém. Seja por acidente, doença, cancros implacáveis, ataques fulminantes, por homicídio ou para o suicídio.
Querer escolher, atempadamente, o tipo de morte para quem amamos tanto, ou para nós, pode ser visto como um ato romântico egoísta.
Morrer de repente, não causa sofrimento prolongado ao morto, mas cava um buraco infinito e eterno na alma de quem fica. Quem perde, fica sem respostas às muitas perguntas que nascem com aquela morte.
Demorar para morrer, prepara a família para o fim. O tempo dá a quem ama a oportunidade de se despedir, muitas vezes. De ver desaparecer em vida. A troco de quê? De um fim sofrido e desumano.
Que dá medo a quem vê e destrói quem ama. Que prende a vida daquela alma que luta e de todes os que a rodeiam.
A morte, seja como for, é caminho sofrido. O verdadeiro jackpot, (nunca pensei dizer isto, tendo perdido o meu pai para um ataque de coração fulminante), é morrer em paz. A saber que os outros, eventualmente, ficarão em paz também.
Uma vez que não se pode escolher, falemos sobre quem fica a lutar pela vida, sem saber que ainda vive. Numa cama de hospital.
Ligada a tudo o que se liga à tomada, rodeada de pessoas que vão ocupando e saindo das camas vizinhas. E com rodas. Rodam todas, menos ela.
não sei se ela ouve, vê ou sente.
se ela ouve o choro de quem a visita, se ela sente as mãos que lhe seguram os dedos frios ou as carícias na testa.
não sei se ela está consciente ou se na mesma dimensão humana que eu.
mas, se não sei…
mas, havendo uma ínfima hipótese de ela ouvir, sentir, ver e saber…
Se ela poderá ainda lá estar, algures e presa num corpo que não aguenta mais…
Se, se, se…
Então, vou estar lá.
Vou vê-la.
Vou falar-lhe ao ouvido.
Faço-o não porque não me custa ou porque sou mais forte que alguém. Ninguém ali vai ou está porque é fácil. Ninguém o faz por gosto. É preciso uma grande dose de altruísmo para o fazer.
Se todes agissem e pensassem da mesma forma, não havia horário de visitas. Porque ninguém visitava.
Ninguém leva medalhas físicas no final.
Nem de excelente participação ou por falta de comparência.
Faço-o por ela e por quem sofre mais do que eu. Faço-o por aquilo que ela me deu e ensinou, porque nada mais eu poderei um dia vir a fazer.
Faço-o consciente de que estas memórias, pesadas e dolorosas, não farão parte das que guardarei da Anna. Da tia Anna.
A Anna, deitada, não é a protagonista das minhas memórias. De infância, adolescência e vida adulta.
A Anna, é a melhor cozinheira que conheci.
O arroz de frango, de forno, e o bolo de chocolate, eram as suas especialidades.
Lembro o riso maroto, o olhar verde e atento, o abraço presente, a mensagem carinhosa, a calma e a boa disposição.
Fez questão de fazer parte de toda a minha vida. Nunca faltou nos momentos importantes ou pouco importantes, apoiou sempre os meus sonhos, as ideias loucas e projetos.
Quase nascemos no mesmo dia, quero acreditar que nasci um dia depois para que ela tivesse um dia só para ela:
“Amanhã és tu”, acabava sempre assim a chamada de aniversário.
Conduzo para lá e para cá, com o mesmo nó na garganta. Chateio-me com a vida. Chateio-me com as respostas egoístas que vou ouvindo.
Chateia-me pensar que se for eu, um dia numa cama, talvez não tenha visitas. Porque represento um trauma com pernas e que, ainda, respira.
Que me calhe o jackpot.
Chego a casa esgotada com o peso da impotência.
Antes de estacionar, inverto a marcha.
Passo rente ao portão da minha antiga cresce, que agora é um centro columbófilo.
A porta do centro está aberta, do carro consigo ver a entrada e não reconheço aquele sítio.
Aquele sítio já não é morada onde vivem as minhas memórias de infância. Existem só em mim agora.
Não me deu vontade de entrar, de querer ver e de conhecer. Por medo. Como se o não reconhecer o sítio, aniquilasse todas as memórias felizes já existentes.
Vou preservar as minhas últimas memórias daquele sítio.
Não quero que este novo espaço destrua as memórias que tenho. Não quero sair dali triste, porque um sítio que tanto me disse, agora não diz nada.
E na verdade, nunca diria, porque é um sítio.
Mas a minha tia não é um sítio, a minha tia foi alguém com muitas versões físicas.
Amei todas elas.
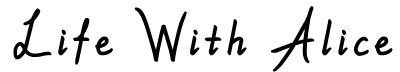

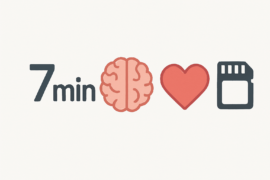


Comments are closed.