Aterrámos em Nova Orleães com o tempo contado. Precisamente dois dias, para explorar a cidade antes de embarcar num cruzeiro. Erámos seis, experientes em viagens e a lidar com os nossos, muitos, feitios e manias. Há uma frase, que corre os sites de frases porreiras, que diz “ Find your tribe, love them hard”. Pois bem, este grupo é a minha tribo murica.
De carrinha alugada procurámos o Airbnb reservado. Bonito e espaçoso, mas não para seis pessoas. No entanto, desenrascámo-nos e fomos à busca da aventura. Cada elemento deste grupo tem o seu talento. A Shay é a atenciosa, o Larry o conselheiro alimentar, o Jerry o condutor designado, o John é a festa, o Chelo o poliglota e eu sou a exploradora. Tipo a Dora. Quem no bolso do casaco guarda uma lista de sítios, característicos, a conhecer.
French Quarter foi o primeiro destino, o bairro mais antigo de Nova Orleães. Onde a influência francesa ilustra a íris e arregala os olhos. As ruas são estreitas, as casas fundem-se entre o antiquado e o moderno, os edifícios são coloridos e majestosos. Dezenas de becos tornam o quarteirão francês um labirinto cultural. Provámos uma dúzia de picantes diferentes, refrescámos com uma cerveja gelada, vimos os elétricos furar a multidão e fomos jantar.

O Poppy’s Crazy Lobster recebeu-nos com jazz ao vivo e vista para o rio. Como regra de ouro, empilhámos os telemóveis no centro da mesa e convivemos. Olhámos nos olhos, partilhámos gargalhadas e histórias peculiares. No fim dividimos a conta entre todos, e quem abusou no álcool ficou responsável pela gorjeta. Despedi-me do restaurante com uma granada de mão, uma bebida espiritual servida num grande (GRANDE) ornamento de plástico. Os sabores são vários, mas escolhi a granada Voodoo, por estar em Nova Orleães. Descobri, no final da segunda granada, porque a batizaram de Voodoo. É que sem sentir e saber bem como, ria mais alto que o habitual e não caminhava em linha reta. Pareceu magia negra.
Instalámo-nos em carruagens atreladas e pedalaram-nos até Bourbon Street. As ruas estavam desertas e as ramas das árvores enfeitadas com colares. Fruto do festival Mardi Gras que a cidade acolheu, meia dúzia de dias antes da nossa chegada. Saltámos de bar em bar, brindámos e bebemos de penalti. Vagueávamos pela rua quando avistei dezenas de pessoas a atirar colares coloridos de um varandim. Corri e gritei com o pescoço e dedos esticados:
– Atira-me um!
– Mostra as mamas!
– Quê?! Não!
– Só uma mama então!
De boca aberta fiquei com tamanha estupidez. Olhei em redor, reclamei ao meu primo e encontrei alternativa para ganhar um colar, sem mostrar uma ou as duas mamas. O bartender do bar ao lado vendia sacolas de missangas a dois dólares. Comprei um, subi à varanda e atirei colares ao desbarato. Percebi depois que agora a tradição é essa, nudez em troca de colares. Mesmo que as cores dos colares contenham simbolismo cristão, mudaram-se as prioridades. Com o pescoço carregado de missangas mudámos de posto. Acampámos num bar cuja pista de dança era, nada mais, nada menos, que uma arena insuflável com um touro mecânico:

– Vai, eu pago-te o bilhete! – Desafia-me o poliglota do grupo.
– Não, vou ficar mal disposta.
– A Alice nunca diria não. – E com esta me convencem, sempre.
Montei o touro depois de, literalmente, assinar um contrato. Desresponsabilizando o espaço se algo me acontecesse, inclusive se morresse. (Credo. Mas fui na mesma.) Aguentei 43 segundos e ouvi o nome Alice gritado, por cinco personagens que me fizeram rir.
Na manhã seguinte, saí cedo da cama e sozinha mergulhei na piscina do alojamento. (Com os pés e interior das coxas pisados, consequências das galopadas no touro mecânico).
Troquei de roupa e fui acordar Nova Orleães. Claro estava que os meus companheiros acordariam tarde e a más horas. Deixei um bilhete para que me ligassem quando acordassem. E fui.
Andei quilómetros, ouvi o jazz correr pelas ruas, vi pinturas serem quadros, visitei lojas de Voodoo e experimentei vestidos do século dezoito. Reparei no homem que passeia o saxofone, nos autocolantes intemporais colados nos postes, cheirei os incensos e as velas mágicas. Perdi-me, deslumbrei-me, o telefone tocou e o grupo recolheu-me.



O estado de Luisiana intitula-se a capital da galinha frita, a melhor de toda uma nação americana. Procurámos o restaurante mais afamado e encontrámos Willie Mae’s. E confere. Enchemos a cara de galinha frita nesta típica casa familiar, cuja fila para entrar contornava o passeio exterior. A uma quinta-feira ao almoço. Lambemos os dedos gordurosos, limpámos a boca lambuzada e ainda roubei a atenção do empregado, pertencente à família que deu alma a este negócio. Ele contou-me como perderam tudo quando o Katrina atingiu Nova Orleães. Destruindo o espaço, existente desde 1957, e causando milhares de prejuízos. O Katrina passou e inundou as partes baixas da cidade. Morte, doenças e centenas de crocodilos invadiram ruas e espaços privados, incluindo esta sala onde almoçámos.
Desgraças à parte, passou. Reconstruíram e trouxeram a alma de volta aos alimentos:
– Próxima paragem? – Pergunta-me a cambada.
– Buckner Mansion!
Eles olharam-me desconfiados, sem me questionarem. Assim que se aperceberam que a Mansão Bucker é cenário de muitos filmes, principalmente de terror, ouvi-lhes o entusiasmo na voz. A casa é enorme, sei dela porque foi palco de uma temporada de American Horror Story. Uma das minhas séries favoritas. Fiquei estonteada com a grandiosidade da casa, como se música de fundo tocasse quando a vi. Imaginei a Jessica Lange, Kathy Bates, Sarah Paulson e todas as outras estrelas de cinema que desfilaram neste cimento que agora piso. Fechei os olhos e imaginei ainda a personagem Myrtle Snow a gritar “Balenciaga”, como últimas palavras. Essa cena não foi gravada na mansão Buckner, mas por algum motivo me lembrei e sorri. Nenhum dos meus companheiros de viagem assistiu à série, mas partilharam comigo outras referências cinematográficas que eu desconhecia.

Seguimos para outro cenário, uma vez que Nova Orleães está infestada de casas e cenários dignos de filmes. E foi aqui que perdi a postura e me comportei como uma miúda de cinco anos. Imagina o teu filme favorito. Imagina-te lá, onde ganhou vida. E voilà, histeria máxima.
O meu filme favorito, ou um dos, é “O Curioso Caso de Benjamin Button”. E assim que avistei a casa saltei da carrinha, corri para os portões e enfiei a cabeça entre as grades. Ali fiquei com o Benjamin, a Daisy e os velhinhos que no filme procrastinaram naquele jardim. Esforçava-me para recriar partes icónicas do filme no meu pensamento. Não satisfeita, assim que regressámos a casa revi o filme com o resto do grupo. A dividir um grande balde de pipocas, como uma grande família.
Na última manhã refugiei-me no Café du Monde. Provei o frito típico, chamado beignet, saboreei um café mocha e, com a paisagem a iluminar-me o rosto, iniciei esta escrita. Quando terminei e, discretamente, me preparava para sair sou abordada por um dos funcionários:
– Foi um prazer tê-la connosco esta manhã. Espero que a escrita lhe tenha corrido bem.
Estendi-lhe a mão e sorri. É assim que Nola me conquista, pela ousadia do pormenor e música na alma. 
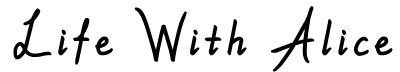

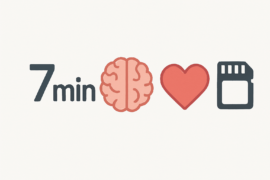


2 Comments
Gosto tanto de te ver feliz miúda! O teu sorriso é contagiante! Beijoca grande.
Adorei 🤗🤗… para mim, um dos melhores textos! Sem duvida! Senti que estava lá…incrível! Parabéns 💪🏼👏🏼